Chico Buarque
Quem me vê sempre parado, distante
Garante que eu não sei sambar...
Tou me guardando pra quando o carnaval chegar!
Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando
E não posso falar...
Tou me guardando pra quando o carnaval chegar!
Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar...
Tou me guardando pra quando o carnaval chegar!
Há quanto tempo desejo seu beijo
Molhado de maracujá...
Tou me guardando pra quando o carnaval chegar!
E quem me ofende, humilhando, pisando, pensando
Que eu vou aturar...
Tou me guardando pra quando o carnaval chegar!
E quem me vê apanhando da vida duvida que eu vá revidar...
Tou me guardando pra quando o carnaval chegar!
Eu vejo a barra do dia surgindo, pedindo pra gente cantar...
Tou me guardando pra quando o carnaval chegar!
Eu tenho tanta alegria, adiada, abafada, quem dera gritar...
Tou me guardando pra quando o carnaval chegar!
quinta-feira, 23 de fevereiro de 2006
quarta-feira, 22 de fevereiro de 2006
Num domingo de carnaval
Dante fa versi diviini
Chianti fa vini diversi
Num domingo de carnaval em 1914, precisamente no dia 22 de fevereiro, nasceram no Engenho de Dentro – provavelmente o lugar menos italiano de todo o planeta – os gêmeos Dante e Chianti. Teixeira Nunes, é bom frisar. Se não me engano, na rua Bento Gonçalves, do lado que antigamente se dizia "das oficinas", em alusão aos galpões de pintura e reparo de vagões da Estrada de Ferro Central do Brasil que hoje abrigam o Museu do Trem.
O terreno da casa da Rua Bento Gonçalves era tão grande, mas tão grande, que um dia um homem se enforcou numa árvore do quintal e só encontraram o corpo três dias depois, por causa dos urubus. Quem era esse homem, como entrou no quintal, ou por que teria-se matado, ignoro completamente. Só sei que vovô, o Dante, contava. Como contava também das redes armadas embaixo das jaqueiras, pra que a jaca não se espatifasse ao cair. E olha o tamanho da bichona, descendo, quebrando a galharada! E quando caía, ah... A molecada enfiava mesmo a cara na jaca (não era o pé, naquele tempo) e - meu Deus! – não é que eu posso ver direitinho as carapinhas todas lambuzadinhas, mesmo só tendo nascido 50 anos depois?
Desse tempo também era a receita de aluá, com casca de abacaxi e enterrado no quintal por três dias, pelo menos. E o bonde puxado por burro, que vovó, da Zona Sul, sempre caçoou.
Depois, foi a casa da rua que depois se chamou Monsenhor Jerônimo, como até hoje, que começa na linha do trem e morre na Dias da Cruz. Nessa casa lembro do meu bisavô chegando da feira com aquelas bananas pretejadas que ele gostava – assim como vovô - e a bisa Anália reclamando. Lembro da minha mãe, pequenina, brincando na rua com as amiguinhas que moravam naquele arremedo de morro. Vocês vão querer saber como é que eu posso lembrar e eu só sei que quando pus os pés pela primeira vez na Monsenhor Jerônimo uma casa velha chamou demais minha atenção e encheu-me o coração daquela saudade engraçada do que se não viveu. Naquela hora eu soube. E horas mais tarde, soube de novo, do jeito mais usual de se saber, confirmadinho pelo bom Tio Osias.
Tempos depois foram as tardes de domingo no velho Largo do Estácio. E a gola da camisa que ficava preta por causa da fuligem da maria fumaça. Já em São Paulo, foram as pensões da Santa Ifigênia, com os ratos mordendo o dedão dos hóspedes, onde um belo dia um colega levou um violão e um menino conterrâneo do Engenho de Dentro, que cantava bonito demais e estava começando no rádio, Orlando por nome. Nos seus olhos castanhos, já meio acinzentados de sabedoria e doçura, vi também o Chico Viola no Pacaembu, reconhecido na multidão, acenando pra torcida com o paletó.
No sorriso postiço, de dentes perdidos antes dos trinta anos, vi o Palestra em campo, empoleirado numa arquibancada de madeira. E que defesa do Oberdan... Jair da Rosa Pinto era malandro, só jogava se o clube lhe reembolsasse o imposto de renda devido (e olha que era vovô, fiscal da Receita, que lhe preparava as declarações, como as do Junqueira e as do Zezé Procópio). Mas como jogava! Comecei a ficar palmeirense quando sábado, na casa dele, esperava-o chegar todo de branco, distintivo reluzente embaixo do S.E.P. bordado em verde, uniforme oficial do imbatível time de bocha do Palmeiras. E terminei quando conduzido por esse semideus mulato, meu particular "príncipe etíope de rancho", fui parar no colo do Luís Pereira, titular da seleção brasileira, sim senhor.
A vizinha da Rua Cotoxó, na Pompéia, ficava espiando a hora dele chegar. E dez minutos depois estava de orelha posta na janela que dava pro banheiro onde vovô desfilava seu repertório de sambas e serestas. Podia ter sido cantor, não fosse gongado por aquele palhaço do Otávio Gabus, pai do Cassiano, que só entendia mesmo era de passear com as "boas" candidatas, ora essa! Se essa rua, se essa rua fosse minha... Está lá gravada a voz do velho até hoje, vibrato caprichado de seresteiro, trinta segundos de uma imortalidade que é muito mais efetiva dentro do meu peito. Talvez por isso eu cante, por ele ter-me dito que quando morresse só sentiria saudade do canto da voz humana. E quando eu-menino comecei a morrer naquele 18 de julho de 1989, soube que eu-homem precisava começar a nascer. E cantar.
E enquanto esse homem-menino segue cantando, meio-nascendo-meio-morrendo, vai lembrando da sua mão fria e tão macia, o dedão curvado, cheirando a Pinho Campos do Jordão. Vai querendo seu colo de vô, lembrando do dia em que fez uma malcriação qualquer e ele chorou, mas disse que não tinha importância "porque vovô te ama muito". Vai tentando se mirar no funcionário público exemplar, impoluto, cassado politicamente pelos putos dos milicos da pseudo-revolução moralizadora. Vai sentindo gosto de Chokito, bala de goma, cigarrinhos Pan de chocolate, fósforo de marzipã ou Alpino, que ele trazia todo dia quando nos visitava, no caminho do trabalho pra casa. E vai, principalmente, tentando viver essa vida direitinha, pra quando um dia se chamar saudade, alguma alma possa dizer, mesmo mentindo, como rigorosamente TODO MUNDO diz dele até hoje, sem mentir: "O Dante? O Dante foi o maior de todos..."
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2006
Dos carnavais que não voltam mais – I
Quero ser ninguém na multidão
Quero me afogar em serpentina
Quando ouvir o primeiro clarim tocar
Quero ver milhões de colombinas
A cantar "tra-la-la-la-la-lá"...
Quero me perder de mão em mão
Quero ser ninguém na multidão
O primeiro clarim, marcha de
Klecius Caldas e Rutinaldo
Um homem que não guarda segredo sobre seus descaminhos carnavalescos, não honra as saias que veste.
Pois conversavam hoje na repartição, moços e moças, quase inocentemente, sobre seus planos para o carnaval. Há uns anos poucos e as conversas seriam sobre a etapa do campeonato de surfe nalguma praia catarinense, ou sobre um pacote muito em conta para as Serras Gaúchas. Hoje, o carnaval voltou à moda. Bem menos em São Paulo, é certo, mas ainda assim anda sempre na pauta da moçada paulistana um bloco desses no circuito Barra-Ondina, abadá uma pechincha, parcelado em doze vezes. E o maracatu-nação? Tudo! Escola de samba do Rio está na baixa, mas não perdeu completamente seu valor (com traslado do hotel para o sambódromo incluso, que a violência no Rio, Deus me livre andar na rua...). Desfile das campeãs, que dá menos fila é melhor.
Entre os cariocas, a onda mesmo de uns quatro ou cinco anos pra cá são os blocos. Meu irmão Edu, a quem apraz passear por muitos blogues, deve estar se fartando de roteiros pessoais para o carnaval, com horários, compromissos, programações. E dicas, muitas dicas. Tudo tintim-por-tintim: sábado vou ao Bola (essa está em todas, mesmo se o cidadão acorde meio-dia de ressaca e vá tomar um chope quente no Amarelinho à uma; encontra dois bebuns cantando "Pela porta aberta..." e escreve no blogue, na quinta-feira, que o Bola mais uma vez foi a melhor coisa do carnaval), depois vou pra cá, depois pra lá. Domingo encontro fulano e vamos pra casa de sicrano encontrar o pessoal do bloco tal... E assim vai.
Pois acho que eu sou de outro tempo. Sou do tempo do velho Mário Lago, que chegando em casa manhã avançada, indagado por sua mãe sobre onde estivera, devolveu com a elegância malandra de outrora: "a senhora quer que lhe minta ou lhe falte com o respeito?". Do tempo do Baile dos Casados nas matinês de segunda-feira de carnaval, dia de expediente, sim senhor. Do tempo da máscara negra que lhe escondia o rosto. De tirar o anel de doutor, para não dar o que falar...
Meus amigos reclamam que não me acham. Que marco e não apareço. O Edu mesmo, que é preciso do início ao fim, me procura no Bola todo ano, mas nunca conseguiu me encontrar. Se encontro, não fico. Se acho, passo. Porque a graça mesmo do carnaval é esse deixar-se largar, é sair sem paradeiro, beber até o dinheiro acabar (depois voltar de táxi, pedindo pro chofer esperar enquanto vai lá dentro pegar o da corrida; ou dormir na rua...). É pegar o primeiro ônibus que passar, desmaiar de porre e saltar quando for acordado por um pixinguiniano "pa ra ra rá ra ra rá ra ra ra ra ra ra ra ra rá / pa ra rá / pa ra rá / pa ra ri ri ri ri ríííííí...", num trombone desafinado.
Talvez tenhamos levado, os homens, a piada tão a sério, que hoje a graça toda seja mais contar do que viver. Talvez nós que não lemos as revistas caras nem assistimos aos biguebróders estejamos mais impregnados desse espírito panóptico do que possamos admirtir. Nos desvencilhamos em boa parte, é certo, de uma hipocirisia colonial que trancava mulheres e filhos em casa e fazia da rua o reinado dos machos adultos, cenário dos jogos de dominação em todos os níveis. Mas talvez tenhamos perdido junto a utopia do carnaval como reinado da indiferenciação, do anonimato, da mistura, do desregramento (nesse sentido). Não soubemos ou não pudemos incorporar da sabedoria africana e indígena o sentido da ocultação e o correspondente jogo do desvelamento, que afinal compõem a forma tanto do sagrado como do jogo da sedução.
Por isso, talvez, o carnaval em geral esteja assim perdendo um pouco da graça. Dirão vocês que estou ficando velho, e possivelmente resida aí uma parte considerável do problema. Mas anoto que não deixo de sentir graça e não deixo de celebrar o velho e bom Carnaval com a energia e a entrega que me são pedidas nos momentos e espaços onde ainda é possível minimamente encontrá-lo. Enquanto se dessacraliza, na medida em que se despe da sua forma de ocultação, de ritualização, de entrega e sacrifício e assume sua dimensão de normalidade, de universalidade, o carnaval, "em momentos assim, morre um pouquinho mais". Paradoxalmente, quanto mais blocos na rua, quanto mais gente nas suas fileiras, quanto mais se incorpora na "agenda cultural da cidade", menos sobrevive do carnaval.
Não acredito tratar-se de uma lei inexorável (embora não adiante escrever isso, porque os bobocas de sempre dirão, com isso ou sem isso, posto que não sabem ler, que somos puristas, donos da festa, curadores do povo e todos os etcéteras cansativos), mas no mínimo de uma tendência perversa. E não nos resta muito senão desligar os televisores, não comprar as revistas caras, não ler os blogues-vitrines. Não assumir compromissos, não compartilhar roteiros, não dar nem pedir dica. Sair, beber, dançar, brincar...
Ser ninguém na multidão.
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2006
Nancy
Batidas na porta da frente: é o tempo!
Eu bebo um pouquinho pra ter argumento
Mas fico sem jeito, calado, ele ri
Ele zomba do quanto eu chorei
Porque sabe passar e eu não sei...
Resposta ao Tempo,
de Aldir Blanc e Cristóvão Bastos
Dede o longínquo 06 de fevereiro de 1916, existe para essa dimensão do mundo sob nossos olhos a que carregaria o nome de Nancy. Minha avó, mãe de mamãe. E a família ontem reuniu-se para o almoço, que transcorreu com a animação possível, boa comida, boa música e aquele incômodo de todos sentido e pouco manifestado de constatarmos que não éramos mais os mesmos da festa dos 80. As ausências dos que nesse meio-tempo passaram para a morada dos ancestrais, somada à dos mais jovens que, sem paciência para as coisas dos velhos e sem idade para serem conduzidos sub vara, deram a medida de que, afinal, o tempo tem passado para todos.
Num telão acoplado a um computador, iam desfilando, como a moda reza, velhas e novas fotos familiares. Agora ela está com vovô, vestida de noiva, em 1940...
Carioca de Botafogo, nascida na Rua Marquês de Abrantes, criou-se em São Paulo, mas jamais perdeu a referência de origem, da qual até hoje dão testemunha o "s" chiadinho e o "r" reforçado. Das suas três amigas dos tempos da Escola Normal Caetano de Campos que estiveram nos 80 anos, só uma presente. Quando cheguei ela já tomava sua Brahma geladinha, mas recusou a segunda por não querer "abusar". A saúde não permitiu a presença das demais, vivas e lúcidas, para poderem reafirmar contra quaisquer argumentos uma convivência de 77 anos.
De repente está lá minha mãe, adolescente, num "vestido alinhado, de godê, todo plissado", como no samba...
Acompanhando-se ao violão, um rapaz de não mais que vinte e poucos anos cantava a Rosa do Pixinguinha, canções do Caymmi, sambas do Ary Barroso. Soube que é amigo do Bruno, o mais novo dos primos, que mostrou também que dia-a-dia tem aprimorado seu violão. Como eu, passou a adolescência entre Sílvio Caldas, Noel, Orlando Silva, mas afortunadamente a performance indica mais talento e mais dedicação. Fiquei pensando em como a minha solidão foi maior, jamais poderia ter encontrado jovens companheiros pras minhas nostalgias musicais (fora a Roberta Valente, que já nasceu velha). Meio sem motivo, apanhou-me uma boa sensação de ter cumprido o papel de levar à frente o bastão. Mas pelo menos os anos de estrada ainda me permitiram invocar vovô, o velho seresteiro, e cantar em homenagem à aniversariante:
Ouve esta canção
Que eu fiz pensando em ti
É uma veneração, Nancy...
E não é que ele aparece de calção de praia, moço e bonito como só, mas o computador mal nos permite firmar a atenção e de repente estamos todos, com ele, numa das suas últimas fotos em 89...
Vovó, que até então mais observava, gostou. Enquanto esperava minha mulher, fiquei ali a ver minha filha correr pelo salão. Mamãe comandava a organização junto com o Dudu. As fotos todas se sucedendo na tela, a melancolia misturando-se ao champanhe na brecha da noite mal dormida. Quatro gerações entre si costuradas no tempo e no espaço, pela força dos fios da memória, do coração e dos circuitos eletrônicos.
...Somente poderia
A musa traduzir
O nome que é poesia:
Nancy...
Logo me vejo, só de fraldas no colo dela, no portão da velha casa da Rua Cotoxó...
Se hoje percebo em mim mais nítidos os traços dos outros avós, ela foi sem dúvida, na primeira infância, meu porto mais seguro, minha referência mais presente. Instância de apelação quando das demandas indeferidas, ouvidoria para as queixas, embaixada em caso de necessidade de asilo. Vali-me muito bem, é certo, da condição de protegido que gozei até ter consciência e autonomia para discordar. Mas se a vida foi pouco a pouco pondo em relevo as divergências, não é menos certo que eu me pegue a torto e a direito reproduzindo seus ditados, contando suas histórias, incorporando suas lembranças, nesse processo tão vital de sobrevivência que consiste na transmissão do nosso cabedal mais íntimo, aquele que, se não nos incumbimos de competentemente legar, não há inventário nem testador que dêem conta.
...É a mais linda história
De amor que conheci
Quando o seu nome
Assim eu repeti:
Nancy, Nancy, Nancy *
Bisa para a Iara, minha mãe duas vezes, como sempre fez questão que eu repetisse, vejo-a agora na tela, aos cinco anos, nas vésperas do carnaval de 22...
* Nancy, valsa de Moacyr Bueno Rocha, originalmente gravada por Francisco Alves em 1933
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2006
Radamés
Homenagem ao grande Radamés Gnatali, no ano de seu centenário,
no dia em que se completam 18 anos de sua partida.
Pianinho
Edu Lobo e Aldir Blanc
Em vez de vir direto àquele assunto que me traz
Eu vim chorando leve e de viés...
Gravei de ouvido tantas confissões musicais,
móveis e imóveis tramas que a onda faz
tangendo a lua branca no convés.
E sem negar o sonho não botei nada de mais
- um truque se transforma num revés -
e uma voz de longe disse assim: "ô, rapaz,
Falta de medida só revela o incapaz.
Imita a simetria das marés".
É, tudo bem. Vou logo lhe avisando que tou nessa também
e essa Voz que me aconselha de onde vem?
Não acredito em deuses. Digo amém. Hein?
Falando em chope, bonde, bandolim, retrato, jazz,
moderna e lá no tempodo mil-réis,
lembrando, então, que agora daqui a pouco é jamais
nazarethas, valzinhos, tons, garatos, ravéis
- reconheci a voz do Radamés...
Reconheci a voz do Radamés!
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2006
Yemonjá awabô
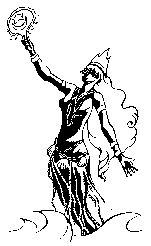
Yemonjá awabô aiô
Yemonjá awabô aiô
Iagba ode ire sê
A ki iê Yemonjá
Iá koko pê ilegbê aiô
Odofi iassa ueré o
Iassa ueré o
Odofi iassa ueré o
Promessa de Pescador
Dorival Caymmi
Alodé Iemanjá odoiá!
Alodé Iemanjá odoiá!
Senhora que é das águas
Tome conta de meu filho
Que eu também já fui do mar
Hoje tou velho acabado
Nem no remo sei pegar...
Tome conta de meu filho
Que eu também já fui do mar
Alodé Iemanjá odoiá!
Alodé Iemanjá odoiá!
Quando chegar o seu dia
Pescador véio promete
Pescador vai lhe levar
Um presente bem bonito
Para dona Iemanjá...
Filho seu é quem carrega
Desde terra inté o mar
Alodé Iemanjá odoiá!
Alodé Iemanjá odoiá!
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2006
Porta de barbearia
Sou, como os meus bem o sabem, acima de tudo um fiel. Mormente no que respeita aos meus butiquins, aos comércios em que confio, aos meus lugares e manias. O que dirá em relação ao homem que segura a navalha contra o seu pescoço, em quem se deve confiar cegamente, como bem alerta a sabedoria popular. Cortei o cabelo durante mais de 25 anos no mesmo lugar, o Salão Marília, um cinquëntenário estabelecimento do tradicional bairro das Perdizes. Dele não diria simples, mas clássico. Nesse quarto de século, enterrei dois barbeiros e um terceiro voltou pro Ceará. Aí perdi o gosto, principalmente porque as coisas menos importantes feitas no barbeiro são barba e cabelo.
Os barbeiros, na verdade, são de uma relevância menos ressaltada que o merecido na história urbana brasileira. No século XIX, a ocupação foi a primeira profissão liberal assessível aos elementos das camadas sociais mais baixas, mulatos, brancos pobres, negros forros ou mesmo escravos autorizados, eis que não dependia de uma habilitação acadêmica só possível para os "de berço". E a habilidade desenvolvida no manuseio dos instrumentos de cutelaria acabou por conferir a esses profissionais prerrogativas de realizar tarefas muito mais importantes do que as simplesmente relativas ao corte da barba e do cabelo. Do que se chamaria mais tarde manicure/pedicure até cirurgias de pequeno porte, passando a aplicações de emplastos, compressas e sanguessugas, além de outras técnicas medicinais da época, tudo incumbia aos bons barbeiros.
Um capítulo ligado especificamente à história da música popular brasileira mereceu estudo minucioso do grande José Ramos Tinhorão: a chamada música de barbeiros. Pois eram esses profissionais mais afeitos aos trabalhos delicados que as pesadas lidas da construção, da lavoura ou da estiva a quem sobrava mais tempo para a dedicação às técnicas dos variados instrumentos. Somando-se a presença entre os barbeiros de negros educados nas bandas de música das fazendas e o caráter urbano das barbearias, tivemos os ingredientes para a primeira forma de música instrumental urbana nativa, tida como célula mater do choro.
Hoje, é certo, as barbearias não tem mais a mesma importância que até meio século atrás, ou pouco menos em relação às cidades menores. O advento dos aparelhos elétricos e descartáveis pouco a pouco fez desaparecer o hábito de se fazer a barba diariamente com profissionais. E, em conseqüência, os salões foram deixando de ser aquele ponto de encontro diário dos homens mais ou menos importantes, a caminho de suas tarefas diárias. Não obstante, até hoje o barbeiro é para mim, juntamente com o táxi, o melhor termômetro dos ânimos populares, seja no que respeite à política, ao futebol e às trivialidades do dia-a-dia.
Depois que abandonei as Perdizes e o Marília em busca de um habitat menos hostil à minha alma suburbana, fui migrando por vários barbeiros sem destino muito certo. Perigosamente ignorando o aforismo popular, a escolha ia se baseando nos quesitos aferíveis de plano: cabeça branca do titular, tira de couro na cadeira pra afiar a navalha (eu disse navalha, não esses arremedos com giletes descartáveis), estufa elétrica ou a gás para a esterilização, vidro de Água Velva em lugar visível. Imagem do santo de devoação ou poster do time do coração ajudam, principalmente se for do Juventus ou da Portuguesa. Minha única exigência mesmo é que no letreiro esteja escrito "barbeiro", ou "barbearia". Pode até não escrever nada, desde que estejam longe as palavras proibidas: "cabeleireiro" e "unissex"!
Três vivas e os melhores sentimentos, então, para os que me dispensaram a ajuda dos psiquiatras cuidando bem da minha cabeça: Carlos e Horácio, que já aparam as barbas de São Pedro; Antônio, que voltou pro Ceará; Oswaldo e Raul, ativos ainda, há 50 anos no Marília; Seu Joaquim, com sua barbearia insuperável, também cinqüentona, parede-com-parede do Ó do Borogodó, com direito ao dito poster da Lusa, rádio a válvula e tubos de Bilcrim com duas polegadas de poeira; e, finalmente, o bom Bonizzi, em cuja portinha lapeana ancorei de novo minha confiança, de uma gentileza e dedicação que tanto me comoveram e inspiraram nesta manhã.
Os barbeiros, na verdade, são de uma relevância menos ressaltada que o merecido na história urbana brasileira. No século XIX, a ocupação foi a primeira profissão liberal assessível aos elementos das camadas sociais mais baixas, mulatos, brancos pobres, negros forros ou mesmo escravos autorizados, eis que não dependia de uma habilitação acadêmica só possível para os "de berço". E a habilidade desenvolvida no manuseio dos instrumentos de cutelaria acabou por conferir a esses profissionais prerrogativas de realizar tarefas muito mais importantes do que as simplesmente relativas ao corte da barba e do cabelo. Do que se chamaria mais tarde manicure/pedicure até cirurgias de pequeno porte, passando a aplicações de emplastos, compressas e sanguessugas, além de outras técnicas medicinais da época, tudo incumbia aos bons barbeiros.
Um capítulo ligado especificamente à história da música popular brasileira mereceu estudo minucioso do grande José Ramos Tinhorão: a chamada música de barbeiros. Pois eram esses profissionais mais afeitos aos trabalhos delicados que as pesadas lidas da construção, da lavoura ou da estiva a quem sobrava mais tempo para a dedicação às técnicas dos variados instrumentos. Somando-se a presença entre os barbeiros de negros educados nas bandas de música das fazendas e o caráter urbano das barbearias, tivemos os ingredientes para a primeira forma de música instrumental urbana nativa, tida como célula mater do choro.
Hoje, é certo, as barbearias não tem mais a mesma importância que até meio século atrás, ou pouco menos em relação às cidades menores. O advento dos aparelhos elétricos e descartáveis pouco a pouco fez desaparecer o hábito de se fazer a barba diariamente com profissionais. E, em conseqüência, os salões foram deixando de ser aquele ponto de encontro diário dos homens mais ou menos importantes, a caminho de suas tarefas diárias. Não obstante, até hoje o barbeiro é para mim, juntamente com o táxi, o melhor termômetro dos ânimos populares, seja no que respeite à política, ao futebol e às trivialidades do dia-a-dia.
Depois que abandonei as Perdizes e o Marília em busca de um habitat menos hostil à minha alma suburbana, fui migrando por vários barbeiros sem destino muito certo. Perigosamente ignorando o aforismo popular, a escolha ia se baseando nos quesitos aferíveis de plano: cabeça branca do titular, tira de couro na cadeira pra afiar a navalha (eu disse navalha, não esses arremedos com giletes descartáveis), estufa elétrica ou a gás para a esterilização, vidro de Água Velva em lugar visível. Imagem do santo de devoação ou poster do time do coração ajudam, principalmente se for do Juventus ou da Portuguesa. Minha única exigência mesmo é que no letreiro esteja escrito "barbeiro", ou "barbearia". Pode até não escrever nada, desde que estejam longe as palavras proibidas: "cabeleireiro" e "unissex"!
Três vivas e os melhores sentimentos, então, para os que me dispensaram a ajuda dos psiquiatras cuidando bem da minha cabeça: Carlos e Horácio, que já aparam as barbas de São Pedro; Antônio, que voltou pro Ceará; Oswaldo e Raul, ativos ainda, há 50 anos no Marília; Seu Joaquim, com sua barbearia insuperável, também cinqüentona, parede-com-parede do Ó do Borogodó, com direito ao dito poster da Lusa, rádio a válvula e tubos de Bilcrim com duas polegadas de poeira; e, finalmente, o bom Bonizzi, em cuja portinha lapeana ancorei de novo minha confiança, de uma gentileza e dedicação que tanto me comoveram e inspiraram nesta manhã.
Assinar:
Postagens (Atom)